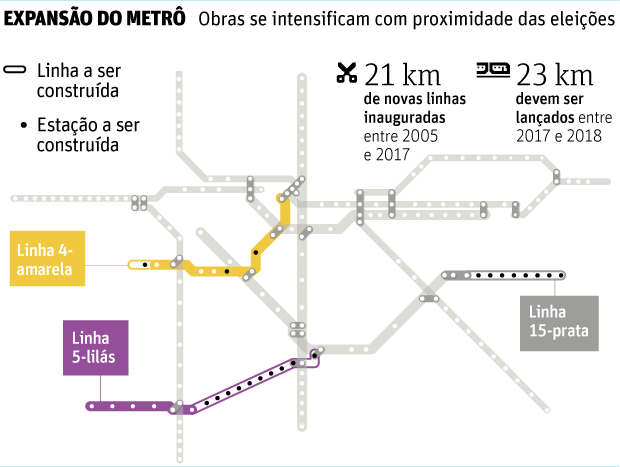A Prefeitura de São Paulo acaba de anunciar, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um chamamento público para estudos de transformação urbana de gigantesca área da cidade, denominada Arco Tietê, que abrange a quase totalidade da Marginal do Tietê em suas duas margens, praticamente da sua junção com a Marginal do Pinheiros até o Tatuapé.
A prefeitura destaca que a área é “um espaço de intersecção de dois eixos estruturantes do desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo”. Esses eixos seriam as duas operações urbanas consorciadas Diagonal Norte e Diagonal Sul, propostas no Plano Diretor e que já vêm sendo planejadas, e o famoso Arco do Futuro, proposto pelo Prefeito Haddad em sua campanha.
As intenções da prefeitura parecem nobres: “orientar um desenvolvimento urbano mais equilibrado do ponto de vista social, econômico e ambiental para a cidade de São Paulo”, considerando os aspectos (na ordem que a prefeitura coloca) econômico, ambiental, da mobilidade e acessibilidade, e o habitacional (qualquer hora escreverei outra postagem sobre essa questão específica, a da ordem hierárquica com que as questões urbanísticas são apresentadas).
Dada “a complexidade de escalas de abrangência a serem abordadas nos estudos”, a prefeitura lançou o chamamento para apresentação de projetos de estudos urbanísticos, para selecionar quem irá desenvolver o projeto da região. Minha colega Raquel Rolnik, em importante artigo em seu blog (clique aqui), já chamou a atenção para o fato de que é sabido que uma importante empreiteira, a Oderbrecht, tem declarado interesse na área e teria já um projeto para ela.
Há várias questões a serem discutidas, que coloco abaixo, mesmo que isso fique um tanto longo, para uma postagem de blog. A questão urbana, ainda mais em SP, é tão complexa que não pode ser discutida em poucas palavras. Digo desde já que procurarei não ser só crítico, mas também propositivo.
1. A prefeitura, na pressa de iniciar as transformações que a cidade tanto precisa, deu um prazo bastante justo para que se apresentem as ideias para a área: 60 dias. Dada a complexidade de um projeto desses e o tamanho da área, isso só é possível para quem tenha grandes estruturas de trabalho, ou mesmo projetos já prontos. Será, então, como coloca a Raquel Rolnik, que esse prazo não vai acabar privilegiando as propostas – cheias de interesses ocultos – de grandes grupos econômicos, como empreiteiras e construtoras? O espaço para que pequenos escritórios de urbanismo, grupos organizados da sociedade civil, associações de moradores, possam de fato responder ao chamamento, nesse prazo, ficou de fato bastante limitado.
2. Embora a intenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) deva ser a melhor, há como pano de fundo um aspecto, de princípios, preocupante: delegar o planejamento de uma área tão grande da cidade a empresas privadas é constatar que o Poder Público está, de alguma forma, renunciando à sua prerrogativa de fazer planejamento público. Entende-se que sua capacidade está limitada, em um momento de início de gestão em que enfrenta o desmonte administrativo promovido nos anos anteriores. Mas, ainda assim, o planejamento do território da cidade – que mesmo sendo privado na escala do lote, é público na sua apreensão mais ampla – é uma prerrogativa do poder público, pois ele tem enorme poder, o de dar a “cara” da cidade e fazer com que sua configuração, no futuro, seja mais ou menos democrática, mais ou menos pública, mais ou menos bem resolvida. O argumento da PPP (parceria público-privada), sempre utilizado para justificar uma ação mais rápida e eficaz do Estado, não significa entregar ao setor privado os processos decisórios sobre como será a cidade. E planejamento urbano, é isso, é decidir como será a cidade.
Para isso, é correto esperar que quem o faça seja quem elegemos, e não uma empreiteira qualquer de quem nem se sabe o nome dos diretores e técnicos encarregados de tão importante tarefa. Na gestão passada, fomos brindados com uma proposta para a Nova Luz – felizmente suspensa – feita por uma empresa privada, que “pescou” soluções urbanas da moda existentes em Barcelona, Nova Iorque e outras cidades glamourosas, colocando-as em São Paulo como se planejamento fosse um simples exercício de “copia e cola”, em uma proposta que não passaria em uma disciplina de primeiro ano em cursos de urbanismo. O planejamento da cidade não pode se subordinar à lógica do mercado, cuja prioridade é apenas a de obter lucros.
Não quero dizer com isso que a SMDU tenha desde já aberto mão de sua capacidade de planejar. Ela pode, de fato, usar as propostas que surgirem desse chamamento para compilar ideias, definir prioridades dentro do interesse público, e então assumir um papel mais pró-ativo na definição da cidade que se quer, subsidiando-se das sugestões dos especialistas. Porém, deve-se pensar qual será de fato sua capacidade de alteração e redefinição do projeto quando ela tiver na sua frente, por exemplo, propostas feitas por grandes empreiteiras com o peso econômico e político que elas têm. A bola está com a SMDU e, pessoalmente, por conhecer muitos dos que lá estão, torço para que tenham a força necessária para isso.
3. O planejamento urbano deve ser participativo, ou seja, deve promover, para saber o que se quer para a cidade, a opinião e reivindicações de seus moradores, dos que a utilizam e nela fazem sua vida, sem o que não será de fato planejamento. Até que ponto um chamamento destinado aos “especialistas” irá conseguir, a posteriori, lançar processos participativos que efetivamente coloquem a população em um papel que não seja apenas de espectador de decisões já tomadas? Espera-se que a SMDU tenha previsto um cronograma participativo para a continuidade desse processo. Mais uma vez, a bola está por lá.
4. O problema de se ter projetos apresentados pelo setor privado é que, por uma lógica natural, esse setor prioriza a sua lucratividade. Mas o espaço público, como o nome bem diz, é público. Ou seja, as prioridades que devem mover a organização do espaço público são a garantia de um acesso democrático à terra urbana, de implementação de sistemas de transporte de massa acessíveis, de produção compulsória de habitação social, de implantação de áreas verdes, praças e parques, de equipamentos públicos de cultura, educação e saúde, de proteção ao comércio local de vizinhança, etc. Ora, tais prioridades, evidentemente, não são pensadas para otimizar o lucro privado, mas sim para garantir a cidade democrática. Podem em alguns casos ser compatíveis, mas na maioria das vezes, o lucro com o espaço urbano vai de encontro ao interesse público: espaços fechados, condomínios que são fortalezas, shoppings-centers que matam a rua e o comércio local, edifícios de alto padrão que supervalorizam o mercado imobiliário e fundiário e expulsam os mais pobres, e assim por diante.
Por isso, como também comentou a Raquel Rolnik (clique aqui), parcerias público-privadas, quando se trata de planejar o espaço público, nem sempre são o instrumento mais adequado, pois tendem a subordinar o interesse público aos ditames da lucratividade.
No caso da região do Arco Tietê, essa discussão é sensível. Toda aquela área nas margens do Rio Tietê é resultante da retificação do mesmo, as várzeas por onde o rio fazia antigamente seus meandros. Com o tempo, muitas terras públicas da região foram vendidas, em grandes lotes que serviram a industrias, shopping-centers e grandes empresas comerciais e de logística. Outras áreas públicas foram concedidas pelo poder público, uma espécie de “empréstimo” válido por décadas, para o uso de clubes e instituições. E algumas poucas, ainda, foram simplesmente “ocupadas”.
Na São Paulo atual, com a bolha de valorização imobiliária que se vê, as terras para empreendimentos imobiliários ficaram raras. Nesse cenário, a região da Marginal do Tietê tornou-se uma das poucas da cidade a ainda oferecer grandes glebas, propícias a grandes empreendimentos. Vê-se, portanto, que o planejamento da área, remanejando os usos dos antigos galpões e modernizando-a urbanisticamente, ganha um interesse todo especial.
Nesse contexto, o que pouco se falou até aqui, mas que é o dado fundamental, é a questão da terra. A quem pertencem as glebas da área, e quem irá se beneficiar da valorização decorrente de seu planejamento? É uma informação que deveria ser, diga-se, pública. Pois não seria surpreendente, poderia até apostar nisso, verificar que empreiteiras ou grupos econômicos ligados ao mercado imobiliário – talvez até aqueles que irão propor “estudos”, atendendo ao chamamento da prefeitura – já estejam comprando parcelas significativas da área, preparando-se para serem os grandes beneficiários de uma urbanização feita para seus próprios fins. Se for o caso, a SMDU estará preparada para contornar tal situação?
Entretanto, não se pode ser ingênuo, de achar que o Poder Público municipal teria poder para manejar a organização do território com o mesmo poder que teria o Estado em um país como, digamos a Alemanha. Não tem. Aqui, historicamente, o liberalismo dá o tom, e quem produz a cidade “rica” da maneira que quer é mesmo o grande poder econômico. Que o digam bairros como a Vila Madalena, a Lapa ou Pompéia, sendo vorazmente transformados pela chegada sem controle, irracional e não planejada de torres e mais torres, que os transfiguram em selvas de pedra semelhantes a de outros, como Moema, que já sofreram anos atrás o mesmo processo de autofagia urbana.
A cidade do dinheiro, no Brasil, infelizmente é terra dos endinheirados, que a fazem à sua cara. O que o poder público pode então fazer? Deve, ao menos, garantir que essa cidade produzida velozmente pela força do dinheiro seja minimamente democrática. Pois esses processos de urbanização de alto padrão levam à ultra valorização imobiliária, e exacerbam ainda mais a segregação social na cidade, expulsando para mais longe as classes médias e baixas que não conseguem fazer frente a essas transformações. Mas, para impedir minimamente que isso ocorra, a Prefeitura tem agora uma chance de começar a fazer diferente do que sempre se fez.
No ano 2000, a França aprovou uma Lei Nacional, chamada de Lei da Solidariedade e Renovação Urbana. Por essa lei, todo e qualquer município daquele país tem a obrigação – sem o que se verá obrigado a pagar pesadas multas – de garantir que no mínimo 20% do total das unidades habitacionais da cidade sejam de interesse social, ou seja, destinadas aos mais pobres. Essa lei, cuja implementação vem sendo feita, mesmo que dificilmente, obriga que as cidades se construam de forma minimamente democrática, garantindo moradia para todos. Sabemos que somente a cidade que consiga ser democrática no seu uso e ter diversidade social é aquela que gerará dinamismo urbano, segurança, e qualidade de vida.
Pois bem, se grande empreiteiras estão interessadas em capitanear a urbanização de uma gigantesca área como a do Arco Tietê, é difícil segurar. Porém, fica aqui então minha sugestão, que eu faria caso respondesse a esse chamamento: por que não criamos, em São Paulo e de forma pioneira no Brasil, uma regra semelhante? Que se urbanize uma parcela tão grande da cidade como essa que está em jogo está ótimo, mas isso não deve se fazer à custa dos mais pobres, aprofundando sempre mais a desigualdade urbana. E já que não há como controlar os processo privados de compra das glebas da área, está aí uma boa ideia para a SMDU aplicar nas regras de urbanização do Arco Tietê: qualquer que seja o plano proposto, que se garanta que, por exemplo, no mínimo 25% do total de metros quadrados construídos, no final, na área do projeto sejam destinados a habitações sociais, e outros 25% a habitações de mercado popular (ou seja, de classe média). O resto, faz-se o que o mercado quiser, de empreendimentos de alto padrão a comércios de todo tipo. Se a isso se associar um controle mais rígido para evitar o os muros e as fortalezas urbanas e garantir praças, áreas verdes e transporte público farto, poderemos ter, quem sabe, um Arco do Tietê apontado para um futuro urbano de fato um pouco diferente.